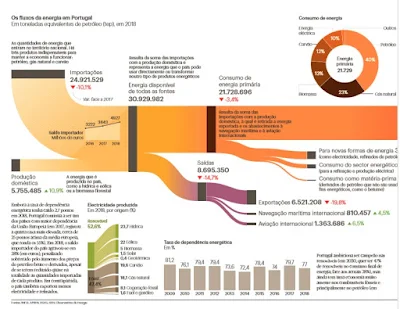Com o fim do mandato como comissário europeu, Carlos Moedas volta agora a Portugal. Em entrevista a Maria João Avillez, critica a geringonça, defende as virtudes da UE e fala do seu futuro no PSD.
Lendo esta entrevista percebe-se bem porque não se deve perdê-lo de vista. Carlos Moedas é uma mais valia. Provou-o em Portugal no governo da coligação PSD/CDS; tinha-o demonstrado, fora de portas, muito novo, na banca internacional; voltou a ter-se a certeza disso em Bruxelas, onde durante cinco anos fez o seu melhor. Estabelecendo pontes inovadoras entre o hoje e o amanhã, reteve-se o seu apport na energia e na criatividade usadas como Comissário para a Inovação e Ciência junto da UE. “Saio com orgulho. Marquei a agenda da Inovação e Ciência na Europa. Nenhum chefe de Estado ou de governo abordava estes temas nos seus discursos políticos, era uma área vista como um parente pobre das políticas europeias. Isso acabou.”
Em pano de fundo, porém, a política, sempre. Existem nele a ambição e o gosto, não disfarça —felizmente — nem uma coisa nem outra, elas estão apenas adiadas. Do PSD, mais que detalhar candidatos à liderança, o que o vinculará será o “posicionamento” do partido no xadrez político que o mesmo é dizer na “abertura à sociedade portuguesa”, questão fulcral da qual não abrirá mão.
A próxima estação onde se apeará em breve será na Avenida de Berna, onde mora a Gulbenkian: “Aprendi onde é que se faz a melhor ciência, onde estão os limites do nosso conhecimento, onde estão as intersecções entre as várias disciplinas que estão a transformar o mundo. Irei contribuir para uma fundação cada vez mais virada para essa transformação.”
Mas qual é ao certo a “profissão” de Carlos Moedas, 49 anos, 3 filhos? “É servir as pessoas e gostar de as servir. É o que tento fazer todos os dias. Passei muitos anos no privado, nunca fui feliz.”
É isto: se fosse preciso resumir a essência desta entrevista, talvez bastasse uma palavra que está sempre a vir ao de cima das outras: “serviço”. E que de caminho, melhor que qualquer outra, o define a ele também.
“O meu PSD acabou por ser o de Passos e é muito diferente do actual”
Acaba de voltar após cinco anos passados em Bruxelas como comissário para a Inovação e a Ciência junto da UE, onde nunca perdeu Portugal de vista nem tirou o olhar da política. Chegou e… que PSD está diante do país? Como o definiria? Tenho que começar pelo óbvio, no caso o seu partido.
Começa bem: sou e serei sempre do PSD. É o partido com que me identifico, em que cresci e trabalhei e para onde entrei há dez anos. Quando Manuela Ferreira Leite perdeu as eleições para José Sócrates, fiquei com uma tão grande tristeza que logo nesse dia decidi tornar-me militante e inscrevi-me. Mas o meu PSD, no fundo, acabou por ser o de Passos Coelho — e que é, aliás, indesligável daquele que para mim foi o melhor primeiro-ministro desde o 25 de Abril. Era um PSD sem dúvida muito diferente do actual.
Mas “ esse” PSD de que fala, o de Pedro Passos Coelho, foi um partido exclusivamente facetado e moldado pelos constrangimentos da troika ou houve, apesar disso, espaço e substância para um partido com assinatura, a de Passos?
Foi muito moldado pelas circunstâncias e elas foram terríveis — é por isso que tenho esta admiração pelo antigo chefe do Governo. Mas era o partido que nós, um grupo de jovens na altura, acreditávamos que iria fazer a transformação do país. Um Portugal em que as pessoas acreditassem, tivessem esperança, onde as empresas privadas soubessem que podiam criar mais postos de trabalho. Havia toda uma energia muito positiva naquela altura. A troika foi estancando essa energia, as asas foram cortadas, e, portanto, tudo aquilo que muitas vezes se fazia com esse sentido de avanço ou de mudança era desdenhado e logo recusado por ser confundido com a troika — e isso custou-me imenso. E claro, marcou muito o país. Tudo é aliás visto ainda hoje com o olhar dessa época. Criou-se uma narrativa onde tudo era mau e todas as medidas eram da troika. Não foi assim de todo: umas eram, outras, não. As duras, da austeridade, obviamente que sim e recordarei sempre as grandes discussões e desentendimentos que tínhamos com eles para minorar ou abrandar a rudeza. Mas quando falávamos nas reformas estruturais — para tornar a economia mais flexível, por exemplo — essas eram o PSD. E bem, e bem, e bem.
Nesse sentido, há hoje um PSD “diferente”? É o que me está a dizer?
Sim. A visão de Rui Rio é diferente da do anterior líder.
Em quê?
Onde cada um posicionou o partido. O PSD é um partido de centro ou de centro-direita? Para mim é de centro e centro-direita. Deve sê-lo. Para Rui Rio, não: quer um PSD só ao centro, é a visão dele e não esta sozinho. Acontece, porém, que há também muita gente que não quer isso, sente-se melhor mais à direita, quando afinal o importante era ter todo esse PSD, que é e sempre foi um partido extraordinariamente livre. E transversal, tanto socialmente, como politicamente. A beleza e a riqueza do PSD não são senão isso. Sim, há uma grande diferença de posicionamento entre Passos e Rio, mas eu nestas coisas sou humilde: há que reconhecer que o papel de Rui Rio também foi difícil. Estar na oposição em Portugal é dificílimo. Obviamente cometeu erros, mas outros também o teriam feito.
“A juventude está a aderir mais ao lado direito da política do que ao seu lado esquerdo. Algo esta a mudar”
É natural que Rio se disponibilize para apoiar, senão mesmo para promover, certas reformas que a esquerda nunca viabilizaria a António Costa. Aplaude a colaboração de Rui Rio na concretização de reformas sérias em nome do interesse nacional, do desenvolvimento do país? Ou acha que o líder do PSD não deveria nunca dar a mão ao primeiro-ministro?
Se se tratasse de algo que mudasse seriamente a estrutura da economia, claro. Mas nunca vimos — em quatro anos! — o Partido Socialista a querer ir por esse caminho, pois não? Quando penso no que no meu tempo no governo foi feito no mercado de trabalho e de como tudo isso andou para trás… O que significa que continuamos a ter um Portugal de primeira e outro de segunda: uns trabalham mais, num horário de 40 horas, outros menos, com apenas 35; uns têm toda a protecção social, outros não. Mas parece que as pessoas estão bem com isso.
A que atribui que o estejam?
As pessoas acomodam-se e a habilidade partidária da esquerda é tão forte que de certa forma anestesia a parte do país mais desligada da política. Aqueles que, depois da crise, possivelmente disseram para consigo “Olha, façam o que quiserem desde que não haja grandes confusões, as coisas até estão um bocadinho melhores”… Essa parte da sociedade portuguesa tem estado algo anestesiada, embora eu reconheça ter havido uma descompressão natural, uma pequena luz após esses anos da crise, tão difíceis para todos os portugueses, para as famílias, para o país. Mas repare: a luz a que me refiro foi indiscutivelmente providenciada e tornada possível pelo trabalho do nosso governo, embora infelizmente só se tenha acendido um pouco mais tarde na economia… Sendo isto verdade, julgo que naquela altura os portugueses queriam descansar da troika e daquela fricção diária contra o governo. Apesar de termos ganho de novo as eleições, as pessoas depois acomodaram-se: “Agora o défice está mais ou menos controlado, façam o que quiserem”. Mas o governo nada fez… Por isso é que sempre detestei a ideia da geringonça, que representou exactamente o nada fazer na área estrutural do país. Sempre a puxaram para o imobilismo. Não fazer, não mexer, não tocar, Não há nada mais extremamente conservador do que esta esquerda radical. Veja-se na saúde: “Ah, privados, não”. Na educação também não. E por aí fora. Um entendimento que foi obviamente terrível para o país.
▲ “A permanente obsessão da esquerda em desumanizar a figura de Passos Coelho quase me põe doido”
MIGUEL A. LOPES/LUSA
“Lembro-me de o meu pai ir aos Jogos Olímpicos a Moscovo e vir de lá com uma ideia extraordinária do que era a União Soviética!”
Há pouco contou-me que entrou no PSD quando Manuela Ferreira Leite perdeu as eleições de 2009, como um gesto, digamos, de quase redenção pelo partido. E no entanto Carlos Moedas veio de um ambiente cultural e de um meio político nos antípodas do PSD. O seu pai era militante comunista…
O meu pai era um homem muito interessante. Entre outras coisas foi correspondente do Expresso e ainda no outro dia o Francisco Balsemão me enviou o número 2 do Expresso com um artigo do meu pai: José Moedas, correspondente no Alentejo do Expresso. Foi ele que fundou o Diário do Alentejo, fortemente de esquerda. E, sim, durante uma parte da sua vida o meu pai militou no Partido Comunista.
Mas lembra-se de na sua adolescência ouvir falar em casa do PC, ou de ir com o seu pai à sede do PC, por exemplo?
Ah, lembro-me, lembro-me perfeitamente. Recordo-me de ele ir aos Jogos Olímpicos em 1980, a Moscovo, e de vir de lá com uma ideia extraordinária do que era a União Soviética! Mas depois, quando eu o questionava sobre o que lá ocorria, nunca era capaz de me dar uma resposta racional ou verosímil. Tínhamos umas discussões interessantes, muito acesas, ele era muito inteligente… E lembro-me dos 1º de Maio em Beja. Mas, sobretudo, recordo-me de ter tido sempre, desde miúdo, uma dúvida enorme, permanente, em relação ao que ele me contava. E então punha-me a ler e tentava falar com outras pessoas para, no fundo, formular uma opinião e poder contradizer o meu pai,
Havia mais irmãos?
Uma irmã. Mas não se interessa nada por política, já naquela altura era assim.
E a sua mãe?
A minha mãe acompanhava o meu pai, mas sem grande empenho ou entusiasmo. Ele é que era um homem notável. Escrevia todas as semanas uma coluna no Diário do Alentejo, “Vento Suão”, uma coluna muito, muito bonita. As pessoas esperavam pela sexta-feira para ler o “Vento Suão”.
Era um leitor apaixonado do seu pai?
Sim, era, era, absolutamente. Há até uma dessa colunas em que ele escreve para mim numa noite de fim de ano, “Carlos, amanhã é outro dia…”, e é muito comovente. Guardei isso comigo.
O seu pai faleceu quando?
Em 1993. Foi muito traumático porque nos anos oitenta o Diário do Alentejo vai à falência, o meu pai ressentiu-se extraordinariamente, adoeceu, tornou-se alcoólico. Foram anos muito traumáticos para mim, eu queria tanto, tanto, tanto ajudá-lo… Guardo um grande respeito pela doença do alcoolismo. De certa forma sinto mesmo o dever de falar às pessoas no sentido de dizer aquilo que se sofre familiarmente com uma doença como esta, sobretudo uma pessoa tão inteligente. Foi horrível testemunhar a sua perda de capacidades, o seu caminho para a auto-destruição…
O ter vivido esse sofrimento levou-o a colaborar com alguma organização ou…
… sim, sim. Agora já não me é possível por falta de tempo, mas na altura sim. Ajudei amigos e amparei muita gente que me falava ou procurava. Nunca tive participação concreta em qualquer organização, mas gostava muito de o poder fazer no futuro. Há como que um impulso de o fazer…
Além da falta de tempo havia a impossibilidade provocada por não viver em Portugal: saiu cedo, demorou a voltar… Como é que isso foi?
Vivi tantos anos fora… Talvez por isso cada vez gosto mais de Portugal. Estive ausente do país entre os 23 e os 35 anos, quando comecei a minha carreira e nunca sequer tinha trabalhado em Portugal! Trabalhei em Paris, Londres, Estados Unidos, voltei para Portugal, fui para o governo. Depois estive em Bruxelas cinco anos como comissário e estou de novo de volta. Quando penso na minha vida, apercebo-me de que os anos que vivi fora me trouxeram a certeza de que gosto de viver em Portugal e quero contribuir para o país. Essa contribuição vai agora ser concretizada através do que será o meu trabalho na Fundação Gulbenkian. Num outro futuro ? Isso ainda não sabemos….
“É vital uma mudança estrutural do ensino: focalizá-lo não nos professores, mas no aluno. Continuamos — sempre! — num paradigma de luta entre o Ministério da Educação e os professores, através dos sindicatos”
Quando se soube que iria regressar de Bruxelas teve convites — vários – para o sector privado. Não aceitou. Mais uma vez, foi essa espécie de vocação do serviço publico?
Porque é que não fui para uma empresa? Porque só me apetece fazer coisas com as pessoas. Uma vez o engenheiro Guterres veio falar ao Técnico e contou uma coisa que jamais esqueci: que na sua vida encontrara no serviço público algo que não encontrara na política, um sentido… Talvez seja assim. Na política hoje não conseguimos fazer mais porque vivemos na espuma dos dias.
“Um dia pode vir aí uma oportunidade em que eu sinta: ‘Agora é a boa altura para servir o PSD’”
Voltando à actualidade política, com ou sem espuma sobre os dias: como se olha a si mesmo, hoje, em Novembro de 2019, face ao PSD? Colaborante com o partido apesar de discordante da direção? Reticente? Desiludido? De costas voltadas? Posso perguntar-lhe por exemplo em quem vai votar nas directas?
Não pode (risos). Colaborante, sim. Sempre colaborante com o líder que está em cada momento. Mas nós não somos nada, o importante são os partidos, são as instituições. Nós passamos por aqui, mas o que fica são as instituições. O PSD é a instituição e este “entendimento” está a fazer falta hoje. Sempre pensei assim antes de ir para Bruxelas mas agora, ao fim destes cinco anos, saio de lá muito mais institucionalista! As instituições são a base de tudo, ajudarei portanto sempre o PSD como instituição: mais quando puder, menos quando não puder, mas estarei sempre presente para ele. Disso não pode restar qualquer dúvida, independentemente de poder estar mais de acordo com uns líderes do que com outros.
Há uma luta acesa — e que se acenderá muito mais – pela liderança dessa instituição e neste momento conhecem-se três candidatos: Rui Rio, Luís Montenegro, Miguel Pinto Luz. A sua decisão está tomada?
Não. Estamos diante de uma decisão muito mais profunda do que a escolha de um líder. A questão não é quem ele será mas quem será verdadeiramente capaz de transformar o partido para que ele se abra mais à sociedade. Mais e melhor. É isso que falta. A nossa sociedade está hoje cada vez mais afastada dos partidos, há quase um divórcio. E o PSD sempre foi o partido dos pequenos e médios empresários, dos funcionários públicos, das pessoas… Lembro-me em Beja, quando era miúdo, daquelas pessoas que até estavam fora da política mas o partido delas era o PSD, era uma espécie de morada. E isso perdeu-se. A grande questão só pode ser esta: como é que nós vamos fazer, numa era digital e numa época marcada por transformações extraordinárias, para trazer as pessoas de volta, para as fazer regressar à política? E, portanto, trata-se de perceber qual é o líder — e eu não sei qual será ele – capaz de as trazer. A minha experiência de cinco anos em Bruxelas mostrou-me que os países em que a democracia melhor funciona são aqueles onde se trouxeram as pessoas para co-desenhar as soluções, para as pensar e trabalhar com os políticos e não ao largo deles. Entre nós ainda vigora um sistema em que os partidos estão sozinhos, fechados sobre si próprios, a trabalhar em soluções, mas depois ouvem os povos a dizerem-lhes que não é aquilo que querem ou que aquele tema ou aquele assunto nada tem a ver com o quotidiano deles.
O que é trazer as pessoas para a política? Como é que isso se faz?
É fazer delas militantes. É conseguir constituir grupos de trabalho sobre temas, reflexões, sobre medidas políticas. É auscultá-las e ouvi-las verdadeiramente. Não é fingir que se ouve. Aliás, os partidos ouviram sempre os mesmos. Faziam-se umas reuniões, vinham sempre as mesmas pessoas, ouviam-se as mesmas coisas. Do que se trata é de saber como é que vamos ouvir aqueles que nem sequer vêm às reuniões. A política tem de ser feita cada vez mais com as pessoas, aquilo a que já chamei co-desenhar as políticas públicas. Hoje já ninguém suporta que se lhes diga para onde ir politicamente, como acontecia há anos. As pessoas já não querem isso.
Querem o quê?
Querem o que lhes está a faltar e que significa uma mudança social profunda: desenhar o futuro com os políticos e participar na construção das ideias e das soluções. Tomar parte nisso. O PSD, como partido modernista e personalista, é de longe o melhor partido para liderar essa mudança. Seria quase uma revolução. A continuarmos por este caminho, daqui a cinco ou dez anos já ninguém vota. Quer maior preocupação? Vejo pela minha filha, que tem 18 anos, e pelos amigos dela…
Não votaram neste último Outubro?
Muitos votaram porque eu os procurei e insisti para que o fizessem. Disse-lhes:“Votem em quem quiserem, mas votem”. E lá vinha a critica “Ó pai, mas não nos deixam participar, não falam connosco, estamos tão longe”.
As juventudes partidárias já não servem nem respondem?
Os que pertencem são uma minoria. E as jotas também não foram construídas exactamente para o que tenho vindo a defender, para este método, digamos, “colaborativo” de fazer política. Enfim: há que encontrar o líder que possa levar o PSD nesse caminho.
No parlamento existem hoje dois partidos recém nascidos que se sentam à direita do PSD e circulam num espaço que durante 43 anos foi do PSD e do CDS. De que modo é que isso pode influir no PSD?
É positivo, foi um alerta. É o que chamamos em inglês um wake-up call. Um pequeno partido como a Iniciativa Liberal teve uma das melhores campanhas políticas dos últimos tempos, onde as pessoas se deram conta de que começava a haver sinais dessa participação. Foi até muito interessante de observar tanto mais que julgo — embora sem base estatística — que uma boa parte desses votantes vinham do PSD e, nesse sentido, o wake-up call pode levar o partido a acordar. Mas também não devo errar se disser que os eleitores da IL, ao testemunharem que o PSD não se diferenciava o suficiente do poder instalado de esquerda, procuraram — e inventaram — outra morada. Depois há o fenómeno muito diferente do Chega, que se insere na vaga internacional do populismo, que ainda não ocorrera ainda entre nós e do qual nos achávamos protegidos — e, nesse sentido, foi também um wake-up call. Vamos ver.
Conhece André Ventura?
Não. Preocupa-me o seu discurso, acho inquietante o que diz sobre as minorias. O racismo vem pela linguagem, ela perpetua o racismo, contaminando a atitude que se tem sobre essas minorias. Julgo, porém, que já tem vindo a matizar isso… Agora, há uma coisa que eu o vi fazer num debate que foi o não ter medo da extrema-esquerda, pondo o seu dedo nalgumas feridas e isso pode contar. É preciso, quando em Portugal falamos de extremos, dizer de uma vez por todas que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista são extremos! E que ambos têm nos seus programas a nacionalização da economia, o que é um extremismo e é mau: aqui ou em qualquer lugar. Mas a verdade é que nós vamos sempre tendo desculpas face a eles…
Como se explica que, quarenta e muitos anos depois de Abril de 74, tudo o que acontece à direita do PS é para troçar, ironizar, subverter, manipular, e tudo o que acontece à esquerda é para tomar a sério, louvar e aplaudir?
Ah, mas essa mudança já está acontecer — já aconteceu — na geração mais nova, o problema é que nem todos votam, uns porque ainda não têm idade, outros porque ainda não sabem bem onde mas já não existe — de todo — esse discurso de complacência pela esquerda. Há uma coisa que ficou aliás claríssima nestes resultados eleitorais. Se é verdade que as eleições correram mal ao PSD – perdemo-las! — viu-se que a juventude está a aderir mais ao lado direito do espectro político do que ao seu lado esquerdo. Temos é de manter a esperança, algo está a mudar
Mas insisto: de onde vem a absurda complacência pela esquerda?
Olhe, no meu caso talvez venha familiarmente do meu pai. Costumo dizer que, como o meu pai era comunista, tenho de combater esta minha tendência de desculpar o PC, mas… sei que não a devia ter! Quando lemos as entrevistas dos nossos dirigentes comunistas sobre a Coreia do Norte
percebemos que o André Ventura veio representar muitas das pessoas já muito fartas de desculpas para com as esquerdas radicais. Parem com as desculpas! Mas, já agora, ainda a propósito de André Ventura, também convém lembrar que o Nigel Farage começou com um deputado — ele próprio – e dezassete anos depois retirou o Reino Unido da União Europeia… Em resumo: o Chega, para mim, está fora daquilo que chamo a direita moderada, onde está, obviamente, a Iniciativa Liberal, o CDS e o PSD.
Aprecia que se fale, ou tenha falado, de si como um possível candidato à liderança do seu partido?
Bem… Tomo esses elogios como parte de um reconhecimento do que foi o meu trabalho nestes cinco anos, antecedidos pelo trabalho sério que fiz no governo. Sério e muito empenhado. Fi-lo com aquele meu carácter trabalhador de levar as coisas a 300 por cento e, portanto, obviamente que fico lisonjeado. Mas o meu comprometimento agora não é esse. Tive um convite para a administração da Gulbenkian e considerei que era a boa altura da minha vida para seguir esse caminho. A política para mim não é uma profissão. Nunca foi: não sou um profissional da política.
Qual é a sua profissão?
É servir as pessoas e gostar de as servir. Passei muitos anos no privado e nunca fui feliz. Depois, na política, encontrei aquilo de que gosto — pessoas que estão a ajudar as pessoas, Foi o que fiz, ajudar ou tentar ajudar. E, como comissário europeu, pude fazer isso na primeira pessoa: com os cientistas, com os inovadores, com os empresários, com muita gente, percebendo que estava a colaborar seriamente com eles.
É esse espírito que levará para a Fundação Gulbenkian?
É. E talvez a melhor maneira de poder fazer isso hoje seja numa instituição como a fundação. Continuar a servir as pessoas, de outra forma. É o meu comprometimento, e não o actual jogo político.
A minha pergunta era relativa ao pós-Gulbenkian.
Não o excluo no futuro porque aquilo que puder dar ao PSD, darei. Um dia pode vir aí uma oportunidade em que eu sinta: “Agora é a boa altura para servir o partido”. Não nasci na política, não tive sonho de, políticamente, ser isto ou aquilo, nunca houve uma vocação, existe sentido de serviço. Se um dia isso acontecer, acontece…
Seja. Mas qual é o seu exacto grau de ambição para liderar um projecto que vá ao encontro das pessoas, “mexendo” na vida delas e melhorando-a?
Essa ambição existe talvez devido a uma revolta interior que é pensar: desde que eu tinha 20 anos até à idade dos 40 sempre senti que nunca houve um projecto político que entusiasmasse verdadeiramente as pessoas em Portugal. Houve o cavaquismo, e vivi bem isso, entusiasmado e inspirado pelo contexto da entrada de Portugal na União Europeia. Mas depois, nos anos 90, quando Cavaco Silva sai — ainda há dias li um excelente artigo que ele escreveu sobre o país e a Europa — nunca mais houve grande entusiasmo, nem grande empenho. Quando eu já estava na idade adulta não houve esperança e era justamente para isso que eu gostava um dia, eventualmente, de contribuir: personificar essa esperança. Na altura de Cavaco Silva a esperança era a Europa, essa Europa que transformou completamente o país. Hoje surge a pergunta: e agora, qual é esperança para o futuro? Como vamos ser um país rico?
Qual a primeira reforma que poria em movimento se liderasse não já o seu partido, mas o próprio país?
O mais importante — é aliás a história da minha vida — é a mobilidade social. Ora, ela só se cumpre através da educação e da inovação. A reforma de que hoje mais precisamos é na educação. Há trinta anos que os professores ensinam exactamente da mesma maneira. Os meus filhos estiveram na Escola Europeia durante estes anos com professores portugueses e o que aprenderam continua a ser aquilo que aprendíamos há trinta anos.
Como seria a “sua” reforma ? Focada em quê? Há tantos anos que se exigem reformas na Educação, as experimentadas não encontraram sucesso, e já ninguém acredita numa “boa” reforma educativa.
Há uma reforma essencial que tem a ver com uma mudança estrutural do ensino: focalizá-lo não nos professores, mas no aluno. E nós continuamos — continuamos sempre! — num paradigma de luta entre o Ministério da Educação e os professores, através dos sindicatos. A educação deve ser centrada na pessoa. Aquilo que aprendi e vi nestes cinco anos a respeito dessas mudanças em países como a Finlândia, por exemplo — onde no fundo havia já o melhor ensino da Europa — é que são capazes de transformações e inovações ainda mais centradas na valorização do aluno. Onde é que estão hoje as novas descobertas, onde é que se cria riqueza? É nas intersecções entre as disciplinas. O que é que eles fizeram? A partir da escola secundária, com os alunos dominando já muito bem as disciplinas e as matérias — muito bem matemática, muito bem física — habituaram os alunos a saber navegar entre as disciplinas, entre a música, a arte, a matemática, a sociologia. Isto inspira-me e digo: estou diante de uma reforma essencial que traria uma mudança profunda para o meu país e não um qualquer atamanco para ganhar eleições. Uma reforma profunda. Isso era o primeiro ponto.
“O PS foi puxado para um forte conservadorismo de esquerda de que resultou que tenham sido quatro anos de travagem brutal“
E o outro, ou os outros?
Falo muitas vezes num triângulo reformista que para mim é essencial para mudar estruturalmente um país: educação, mobilidade social e proteção social. Quando olhamos para os países nórdicos foi exatamente essa a fórmula do sucesso. A educação é a chave para a inovação e a criatividade e aquilo que nos traz a capacidade de tomar riscos. A mobilidade social é a esperança de que os nossos filhos possam viver melhor do que nós. E a proteção social é a base para uma sociedade estável. Mas a base é mesmo a educação.
O que mudaria no nosso sistema de ensino?
Precisamos de valorizar mais os professores. Há 30 anos, os professores eram mais valorizados e isso fazia com que por sua vez valorizassem os alunos e se centrassem neles. Acho que se degradou de certa forma nos anos 80 e 90, e depois nos anos 2000, não se valorizando os professores, o que foi um erro dramático numa sociedade. Na Finlândia, que é sempre o exemplo que prefiro e talvez o mais desenvolvido nesse sentido, um médico ganha tanto como um professor. E alguma razão há para isso, não é? Porque o que é que sucede hoje? Os melhores alunos portugueses querem ir para medicina, obviamente, que é a nota mais alta e a que lhes dá o emprego mais estável. Se valorizássemos a profissão de professor como valorizamos a de médico, muitos quereriam ser professores, porque não têm vocação para ser médicos. Costumo dizer: os políticos não fazem milagres….
…e não fazem!
Não fazem. E se alguma vez eu tiver maior participação política, não seria para definir medidas que fizessem milagres de um dia para o outro. Interessar-me-ia muito, caso viesse a ter intervenção política activa, que ela incidisse especialmente no reforço deste triângulo – mobilidade social, que é um pouco a minha história; proteção social; e educação.
“Estive sempre em total desacordo com as medidas tomadas pelo governo da geringonça em relação à economia”
Temos falado dos partidos à direita do PS, viremos-nos agora para o outro lado. Como é que analisa a herança deixada por António Costa após os seus quatro anos de governação?
Poucos dias antes das eleições de 6 de outubro houve uma série de personalidades que fizeram um manifesto pela geringonça, e o que ouvi incomodou-me de tal forma que jamais o esquecerei… Primeiro, porque havia uma frase a dizer que não se esqueciam que Pedro Passos Coelho dissera que vivíamos acima das nossas possibilidades — ou seja, sempre aquela permanente obsessão em desumanizar a figura Passos Coelho, o que quase me põe doido. Vimos isso sobretudo com Catarina Martins nestas ultimas eleições : desumanizar, porque ao fazê-lo não precisamos de ter argumentos, nem razão, não é? Desumaniza-se e pronto. Em segundo lugar, a geringonça estagnou as reformas que já estavam na calha e de que o país evidentemente tanto precisava.
É suposto ter-se dado muito bem com os actores principais da geringonça, como a sua função em Bruxelas aliás recomendaria. Mas recomendaria tanto?
Eu sei que se comentava isso. Muitas vezes eu próprio ouvia dizer: “Ah, mas o Carlos Moedas está a funcionar muito bem na Europa com este governo e com o António Costa”. Mas isso é esquecer que, nos temas europeus, o PS e o PSD não têm — felizmente! — grandes diferenças. Nesse sentido, pude entender-me — e entendi-me – bem com o governo nesses temas. Mas, agora que estou no fim da minha carreira de comissário e mais livre de compromissos, vou dizer algo que nunca abordei publicamente, estou a dizê-lo aqui pela primeira vez: estive sempre em total desacordo com as medidas tomadas pelo governo da geringonça em relação à economia. Testemunhei os danos da medida das 35 horas. Vi aquilo que se estava a fazer na Saúde e que felizmente o Presidente da República travou, que era: “A saúde só pode ser pública, o SNS só pode ser público”. Mas porquê? Do mesmo modo que temos de focalizar a educação no aluno, há que focalizar a saúde no doente, e ele não quer saber se um hospital é privado ou público, quer ser bem tratado. Essa ideologia e esse estigma que são o produto da geringonça não fizeram senão puxar mais o PS para um forte conservadorismo de esquerda de que resultou que tenham sido quatro anos de travagem brutal.
Por exemplo?
Por exemplo uma iniciativa do governo a que pertenci, a criação do Banco de Horas – medida louvada por várias instituições internacionais —, segundo a qual as empresas passariam a poder discutir com os trabalhadores um melhor uso do número de horas de trabalho: “Precisamos que trabalhem mais estas horas, ou menos aquelas, vamos combinar como é que o faremos de um modo mais justo”. Mas, como ocorreu com tantas outras medidas, esta também voltou para trás. Alias, um recente relatório da OCDE dizia que a economia portuguesa é das que tem mais entraves ao empreendedorismo… Não era a minha função de comissário estar a discutir as políticas internas portuguesas — nunca o fiz – mas parece-me que quem me conhece sabia que eu não podia estar de acordo com a filosofia do anterior governo! Falo nisso hoje porque estou numa transição entre o fim do meu mandato e o começo de uma nova responsabilidade e sinto liberdade para falar. Mas sim, chocou-me ouvir dizer que “o Carlos Moedas é do PSD e o governo do PS” quando do que sempre se tratou foi do país.
Trabalhou mais com quem? Com Mário Centeno ou com António Costa?
Sobretudo com António Costa. Tivemos uma relação muito directa, vivemos algumas situações de alta tensão, ainda no outro dia falávamos disso com Jean-Claude Juncker. Daquele momento particularmente difícil para Portugal quando houve a decisão de nos aplicarem sanções devido ao Pacto de Estabilidade. Lembro-me de que estava no Colégio de Comissários e ia enviando mensagens directamente ao primeiro-ministro sobre o andamento das coisas. Estivemos ali os dois a trabalhar muito tempo e muito intensamente, quase hora a hora. E conseguimos: não houve sanções. Trabalhei também com Mário Centeno, mas sempre mais com o primeiro-ministro.
E via e falava com os deputados portugueses no Parlamento Europeu?
Via, via. Olhe isto, que é engraçado: da mesma maneira que critico e abomino a ideologia do Bloco de Esquerda, trabalhei de forma muito interessante com a Marisa Matias na área da ciência. Era a única portuguesa com assento na Comissão da Ciência, trabalhámos juntos e trabalhámos bem, tivemos uma relação pessoal óptima. Depois, obviamente, via amigos como os deputados Paulo Rangel, José Manuel Fernandes, Carlos Coelho. O Carlos Zorrinho também trabalhava nesta área da ciência e também havia contactos entre nós.
E agora, na Gulbenkian, já o disse, vai naturalmente pôr a render o que sabe e o que aprendeu Explique lá isso.
O que vou fazer é ajudar a presidente da Fundação Gulbenkian, Isabel Mota, numa transformação necessária do que será uma fundação do séc. XXI. As fundações do séc. XX viviam num mundo muito diferente e a Gulbenkian precisa dessa transformação. As fundações têm uma capacidade extraordinária, por serem um misto entre o sector público e o privado: não possuem quase nenhum dos constrangimentos do sector público e também não têm aquilo que define o sector privado, que é o trabalhar para os accionistas. Trata-se de trabalhar para o bem público, e essa capacidade é extraordinária! Sucede que num mundo digital tudo isso é feito de modo muito diferente do que ocorreu até aqui. É um desafio interessantíssimo.
E é aí que entra a sua mais valia?
Irei contribuir com o meu trabalho e com o que sei. Aprendi onde é que se faz a melhor ciência, onde é que estão os limites do nosso conhecimento, onde estão estas intersecções entre as várias disciplinas que estão a transformar o mundo. Tentarei contribuir para uma fundação cada vez mais virada para essa transformação. Vamos ver.
Está-me me a dizer que a sua colaboração pode ir além de um pelouro funcional, ou não ficar exclusivamente confinada a ele?
De certa forma estou, embora haja ainda decisões a tomar que competem à dra. Isabel Mota. Poderei certamente ter um pelouro interessante dentro das áreas que conheço, mas posso sobretudo intervir na questão de como manter as instituições criadas num mundo físico se vivemos num universo que está numa dissonância cognitiva. Como agir em instituições desenhadas no passado a falar de temas de futuro?
Quem o convidou a entrar pela grande porta na Avenida de Berna? A própria presidente?
O convite veio da dra. Isabel Mota. Tenho uma grande admiração por ela. A capacidade que teve em desinvestir nas energias fósseis é de grande coragem e visão estratégica. Ficará na história. E por admirar o seu trabalho achei, repito, que lhe poderia ser útil. Nesta fase da minha vida queria essencialmente fazer algo com verdadeiro impacto social.
Um dos seus temas fortes.
É um dos temas que mais me interessam: como conseguir complementar hoje um Estado Social mais fraco, que não pode atender a tudo e perante pessoas com cada vez mais mais idade? Se formos capazes de dar esta resposta — ou de começar a dá-la — a Fundação Gulbenkian pode continuar a ter um impacto extraordinário nas próximas gerações.
Tentemos ser mais concretos: como fazer o que me tem vindo a dizer? Qual o seu especifico apport?
Há três áreas em que poderei utilizar a minha experiência. Primeiro, na transformação digital da Fundação, que será essencial para qualquer instituição — não é demais repetir que vivemos num mundo de instituições físicas que terão de se adaptar ao mundo digital. Segundo, na inovação social, que é uma das minhas paixões e em que a Fundação tem sido pioneira. Terceiro, na internacionalização e na abertura ao mundo que é um caminho que a Gulbenkian tem estado a fazer e a acrescentar valor.
Que gostaria que se dissesse da Fundação Gulbenkian no termo do seu mandato?
Que a Fundação continua a transformar para melhor as vidas de tanta gente em Portugal e no mundo, chegando a mais pessoas num mundo aberto e digital.
“Ironicamente, o Brexit acabou por aproximar e unir os 27 governos”
Vamos até à “Europa”? O saldo da sua passagem por Bruxelas como comissário europeu é muito positivo: Carlos Moedas marcou e convenceu. Mas o balanço é menos amável para a UE… Os povos olham-na com distância, os desentendimentos entre Estados-membros são conhecidos, o compromisso comum é sempre difícil de obter, a voz europeia face ao estado do mundo parece em perda de sonoridade e autoridade, o futuro é incerto. Como contradiz isto, ou melhor: que tem a opôr de relevante, sólido e convincente a este resumo pessimista?
Costumo dizer que temos uma Europa visível e uma Europa invisível. A Europa visível é a Europa das crises e dos populismos que nos preocupa e inquieta; a Europa dos extremistas de esquerda e de direita que querem destruir por dentro o projecto europeu. Depois temos uma Europa invisível que muda a nossa vida todos os dias para melhor, mas que está entranhada no nosso quotidiano de tal forma que já se tornou invisível aos nossos olhos. A natureza humana tem a tendência para dar por adquiridas as conquistas sociais e políticas.
Mas onde vê essa “sua” Europa invisível?
Vejo-a por exemplo em todos os países que estão a crescer em termos económicos consecutivamente há sete anos e que criou 14 milhões de empregos desde o início deste mandato em 2014 ! É a Europa que nos permite viajar sem mostrar o passaporte, telefonar sem pagar roaming, fazer o Erasmus, trabalhar nos vários Estados-membros como se fosse no nosso país. É a Europa que nos últimos 20 anos reduziu a poluição de partículas em 40% e que hoje tem a maior indústria limpa e verde do mundo. É a Europa que liderou os acordos de Paris e que hoje tem acordos comerciais com mais de 72 países no mundo, perfazendo 40% do PIB mundial. E na área que tutelei, a Europa é líder na ciência à escala mundial — nos últimos 10 anos produziu 10 prémios Nobel. E mais: Portugal nunca recebeu tantas verbas da ciência e inovação como hoje. Foi essa Europa que permitiu trazer para Portugal 800 milhões de euros para as nossas universidades, centros de investigação e empresas.
“Temos uma Europa visível e uma invisível. A visível é a das crises e dos populismos que nos preocupam; a invisível é a que muda a nossa vida todos os dias para melhor”
Que fazer para que haja uma passagem do invisível para o visível, levando também a que se passe do cepticismo para a convicção?
Para isso precisamos de duas grandes mudanças: uma institucional , outra de mentalidades. A mudança institucional é aceitar que é impossível estarmos todos de acordo e que a regra da unanimidade não funciona na maioria dos casos. Há que passar à regra da maioria em certas áreas da fiscalidade e dos assuntos externos. Se isso não mudar, a Europa não se afirmará. Foi isso que falhou na crise dos refugiados. Depois, é indispensável uma mudança de mentalidade: a Europa tem que ser mais assertiva na sua comunicação, sem medo de expôr as nossas posições. Temos que comunicar como Europa e não apenas como países.
Então e o Brexit? Como “encaixá-lo” nisso tudo? A UE sem a Grã Bretanha? Pior é impossível, ou não?
Inimaginável. Com o Brexit, realizei quanto o projeto europeu não é um dado adquirido. Não posso imaginar a Europa sem o Reino Unido. Acho que perdemos todos. Juncker disse que estava muito arrependido de não ter sido mais interventivo na campanha do referendo. Foi Cameron que lhe pediu para não intervir, mas devíamos tê-lo ignorado. Devíamos ter feito mais. As mentiras que foram ditas sobre a UE nessa altura não têm desculpa. Os famosos 350 milhões de libras por semana que poderiam investir no Serviço Nacional de Saúde se não estivessem na UE… Lembro-me de pensar: temos que responder, isto é mentira.
Mas não o fizeram suficientemente. Seja como for, como analisa as razões de tudo isto?
Vivi em Londres nos anos 2000, onde nasceram dois dos meus filhos, por isso vivi em primeira mão a razão do Brexit. Se é verdade que o Reino Unido ainda não saiu e já temos saudades deles no dia a dia das instituições, a grande verdade é que os políticos britânicos são para mim os grandes culpados: tudo era culpa da Europa, todo o mal da Terra vinha da Europa. Só se esqueciam que o comércio que tinham com a UE era possível exatamente porque faziam parte dela e que isso era a maior fonte de criação de emprego e riqueza. Também se esqueciam de referir que conseguiam atrair os melhores — em vários sectores — que contribuíam todos os dias para o sucesso do Reino Unido. Ainda no outro dia, por exemplo, visitei o Imperial College e constatei que 1500 empregados e professores dessa grande instituição são cidadãos dos nossos Estados-membros. Aliás, o presidente da Escola de Gestão é o Francisco Veloso, que foi durante anos o director da Universidade Católica.
Mas houve um wake-up call nos restantes países, para usar a sua expressão de há pouco?
O Brexit é evidentemente uma oportunidade para repensar a União Europeia. O que queremos ser? Que poderes devemos ter? Precisamos de clarificar o papel da UE. Mas não deixo de achar, ironicamente, que o Brexit acabou por aproximar e unir os 27 governos.
E se o exemplo se reproduz? Teme que mais países venham a fazer o mesmo?
Penso que o efeito tem sido precisamente o contrário. O fenómeno do Brexit teve, a meu ver, um efeito vacina em relação a outros. Muitos imaginavam que seria um processo fácil, como aqueles divórcios amigáveis em que se assinam uns papéis, a decisão está tomada e já está. Não foi. Era a tal Europa invisível de que eu lhe falava: a UE está presente em todo o lado, desde acordar ao deitar. E, por isso, a complexidade deste processo acabou por dissuadir alguns. Repare no caso da Holanda, onde o meu colega Frans Timmermans, com um programa pró-europeu, conseguiu nas eleições europeias chegar quase aos 20% quando o seu partido vinha dos 8%. Veja-se a mudança de discurso de Salvini e Le Pen, que há três anos anos queriam sair do Euro e hoje querem “apenas” transformar a União Europeia para algo diferente, com Salvini a dizer até que o Euro é irreversível! Veja-se a Hungria e a Polónia — principais beneficiários, aliás, da generosidade e solidariedade europeia — onde o discurso anti-Europa lentamente começa a mudar.
“Com o Brexit, realizei quanto o projeto europeu não é um dado adquirido. Não posso imaginar a Europa sem o Reino Unido. Perdemos todos”
Neste quadro, quem o marcou mais? Na sua despedida, quem tem vontade de louvar pela visão, a vontade política, o critério? Peço alguns brevíssimos retratos daqueles que, pelo seu legado ou exemplo, não vai querer esquecer.
Jean-Claude Juncker: representa uma geração que está de saída e muito deu ao projeto europeu. Viveu e conheceu todos os grandes europeus. Nunca vi ninguém gerir reuniões políticas como ele. Sabia sempre como levar a reunião para as conclusões que lhe interessavam. Não esquecerei aquele dia em que conseguimos evitar sanções injustificadas a Portugal. Também nunca esquecerei o dia em que as lágrimas lhe caíam dos olhos ao falar dos incêndios em Portugal. E daí nasceu o novo serviço de proteção civil europeu. Portugal deve muito a Juncker. Macron: conheci-o ainda como ministro da Economia e desde então estivemos sempre em contacto. Estabelecemos uma grande química e um bom contacto pessoal, que se mantém. Foi muito graças a ele que consegui lançar o Conselho Europeu da Inovação. Mas, sobretudo, o Presidente Macron representa o melhor de França pela sua personalidade e pelas suas convicções. Que momento aquele em que o Louvre estava repleto de bandeiras europeias…. E que discurso aquele que o Presidente francês proferiu na Sorbonne. Momentos históricos.
E fora da politica?
Bill Gates: a inteligência no seu estado puro aliada à simplicidade. Conhecemo-nos em 2014 e desde aí temo-nos visto uma vez por ano. É um apaixonado pela União Europeia e um dos nossos melhores embaixadores. Conseguimos algo inédito, que foi lançar um fundo de investimento conjunto entre o Breakthrough Energy e a Comissão Europeia, fundo esse liderado pelo próprio Bill Gates. Ainda me lembro de ele me dizer que a nossa regulamentação sobre a proteção dados era a melhor do mundo. A Europa vê os dados pessoais como parte da dignidade humana e isso é um valor único.
E Portugal na UE? Há ambição? De algum modo há uma “assinatura” nossa em Bruxelas? Pergunto isto porque costumamos ser maiores na média nacional e na boca do governo do que porventura na realidade dos factos…
As nossas qualidades são os nossos defeitos. Às vezes pecamos por falta de assertividade. É algo cultural. Isso vê-se em Bruxelas também. Em 33 anos de Estado-membro tivemos um português, José Manuel Durão Barroso, dez anos à frente dos destinos da Europa. Ou seja, um terço do tempo em que fomos membros da UE, Portugal liderou a Europa. Quantos países tiveram essa oportunidade? Muito poucos e nenhum do Sul da Europa… Deveríamos por isso ter maior confiança e marcar a agenda de forma mais construtiva. Isso não significa uma lógica de confrontação ou de murros na mesa, ao contrário do que defende a extrema-esquerda em Portugal.
Considera que marcou a agenda? Pode dizer-se isso de si?
Tenho muito orgulho em dizer que, na minha área, marquei a agenda da Inovação e Ciência na Europa. Ninguém falava destes temas há cinco anos. Nem nenhum chefe de Estado ou de governo abordava estes temas nos seus discursos políticos. Era uma área vista como um parente pobre das políticas europeias. Hoje não é assim, estes temas estão já ancorados na agenda dos líderes europeus e mundiais.
Esta nossa conversa coincide com o início do mandato de uma nova Comissão e de novas lideranças. De que “diferença” é portadora Ursula von der Leyen? Podem vir bons sinais da sua liderança e da equipa que formou?
Há excelentes sinais. Não duvido que Ursula van der Leyen desempenhará um excelente papel. Primeiro, é uma verdadeira europeia nascida em Bruxelas e aberta ao mundo, é cosmopolita, domina várias línguas, conhece diferentes culturas. Segundo, tem a agenda certa no momento certo. As mudanças climáticas só podem ser resolvidas ao nível global e a Europa deve continuar a ser líder nessas mudanças. Aprecio e vejo com bons olhos a ideia de construir uma Comissão geopolítica, no sentido em que temos que estar mais atentos às dinâmicas competitivas oriundas dos EUA e do Oriente, principalmente da China. Não duvido que temos que ser um pouco menos ingénuos e um pouco mais assertivos nestas relações. Isto dito, há que não ter dúvidas sobre o seguinte: a Comissão Europeia pode ser muito ambiciosa, muito proactiva, ter boas ideias mas… se os 27 governos não quiserem avançar, de pouco isso adiantará. Dou-lhe já um exemplo que merece atenção: as iniciativas da Comissão Europeia para repartir o peso dos refugiados entre os diferentes países foram sistematicamente rejeitadas pelos governos que preferem gerir o fluxo caso a caso…
Já que estamos fora de portas, vamos abri-las todas… até à globalização, tema sempre recorrente porque veio para ficar. Pergunto: com que instrumentos poderemos lidar com ela de modo a que, falando simplisticamente, não haja de um lado os triunfantes e do outro as vitimas?
Como diz um grande amigo, Pascal Lamy: “A Europa é o único continente que pode civilizar a globalização”. A globalização é um facto. Nunca poderemos travá-la, é verdade, mas podemos civilizá-la. Tornou-se de certo modo selvagem.
Como se civiliza a globalização?
Com três grandes armas: os acordos comerciais, a regulação e a justiça fiscal. De uma forma breve, direi que os acordos comerciais, que de certa forma estão a ser abandonados pelos EUA, são uma arma excelente para garantir os nossas padrões de vida europeus, seja em matéria de ambiente ou social. Não podemos continuar a comprar produtos a países que não respeitam as nossas regras. Além disso, a regulação torna-se numa grande arma quando bem utilizada e dou-lhe um exemplo: o novo regulamento europeu de proteção de dados pessoais é hoje utilizado em todo o mundo, louvado nos Estados Unidos, o que nos dá um poder de influência único no futuro onde os dados são o novo petróleo.
E a justiça fiscal? É outra boa arma?
Sem dúvida. As empresas que querem vender os seus produtos na Europa têm que pagar impostos onde os seu lucros são gerados. Se não o fizerem ainda lhes ocorre o que sucedeu à Apple, que foi multada em 12.000 milhões de euros… Defendo um imposto digital europeu, o que não só seria a forma de impor maior justiça fiscal a empresas americanas que não pagam impostos em território europeu, como uma fonte de receita para o orçamento europeu. Só que para isso é necessário aquela união de que falei há pouco. Precisamos de uma unanimidade sobre este tema, o que é difícil, mas estou convencido de que lá chegaremos.
Vamos rematar com esta edição da Web Summit? Esteve lá, que reteve? Qual a verdadeira importância daquilo tudo?
É fundamental para a auto-estima dos nossos empreendedores e para dar a conhecer Portugal a tantos empreendedores estrangeiros que de outra forma não viriam a Portugal. Este tipo de eventos são hoje essenciais para solidificar o ecossistema da inovação.
Maria João Avillez